Formatação Informativa e Cultura PowerPoint
Apesar de toda a exaltação – “Era da Criatividade” -: este é, conjuntamente, um momento no qual se consegue testemunhar, em determinadas áreas, uma tentativa de simplificação. Ao mesmo tempo em que é utilizada e incentivada uma retórica que se apropria de conceitos como “liberdade” ou “diversidade” distribuem-se “directrizes” de género algo contrário.
Facilitar, dar a entender, integrar o leitor, “comunicar”: “readability” – legibilidade – é expressão que “cai bem” na “Sociedade do Conhecimento”. Será que, algumas vez, James Joyce conseguiria ser nomeado para o prémio, literário, Man Booker? Um editorial no The Observer formulou esta pergunta a 16 de Outubro de 2011. O júri tem que ler cerca de 120 romances num período de seis meses: um e meio de dois em dois dias. Uma das exigências: que sejam obras fáceis de assimilar. “Readability”. Dá jeito a toda a gente: quem julga não pensa muito e integra-se a “comunidade”. O troféu Literature, entretanto, parece ter surgido com vista a um equilíbrio. Andrew Kidd, porta-voz, sentiu, como foi noticiado a 13 de Outubro de 2011, no artigo “New literature prize launched to rival Booker”, por Tim Masters na plataforma, em linha, pertencente à BBC News, necessidade de se justificar: “é uma acusação – a de elitismo – tola. Tem mais a ver com a nossa sensação de que se abriu um espaço para um prémio que tenha a ver, inequivocamente, com excelência. Mesmo que isso, por vezes, signifique que os vencedores sejam desafiantes e que não caiam, necessariamente, em categorizações, simplistas, de legibilidade”. A especificidade, a criatividade e, por isso, a liberdade são, assim, dissolvidas para que não exista espectro desta continua paranóia que constitui este “medo do elitismo”. Esta acusação abre portas à standardização em vários sectores. Por exemplo: jornalísticos e musicais. “Cuidado! Nada de tiques! Nada de si. Pode ofender”. Em época ultra- individualista. Contradição? Não. Por isso mesmo: esmaguemo-nos uns aos outros. É “necessário” que tudo se encontre dentro dos limites bem definidos do espírito das “indústrias culturais e criativas”. Ou seja: pensar dentro da caixa do “pensar fora da caixa”. É a formatação da mensagem ao serviço de um nivelamento. Artificial e forçado. Onde não interessa, tanto, uma verdade interior, uma originalidade ou o confronto de ideias. Importa a sensação – uma aparência – de compreensão.
Assiste-se a uma sobrevalorização do conceito de “comunicação”. Da “conectividade” pela “conectividade”. Nem que, devido a condicionantes relativos ao negócio e ao suporte, se altere, muitas vezes para pior, a forma e o enquadramento. A velocidade, na publicação, ou a diminuição do número de caracteres, a nível textual, é defendida em, múltiplos, artigos de opinião, diáriamente, de modo aberto ou indirecto. Sem, qualquer, vestigio de análise sociológica. Que resultados e objectivos, jornalísticos, globais e colectivos, de médio e longo prazo – quando nem mesmo os mercantis o estão -, se poderão garantir se tal condicionar densidade, investigação e reflexão? Principalmente numa altura em que se ataca, cada vez mais, a figura do jornalista como intermediário? Quando está em marcha este anseio, tão em voga, de destruição do denominado “middleman”? Ficaremos, devido a esta mistura, confusa, de “revolução democrática”, ressentimento e branding, comercial, individualista, satisfeitos, apenas, com um “jornalismo- cidadão”, impreparado e insuficiente? Com a comunicação, directa, do líder político e empresarial? Sujeitos a todo o tipo de manipulações, discursivas, e simplificações? Neste momento, delicado, de reascenção de nacionalismos? A “Sociedade da Informação” deseja, realmente, contacto com o diverso? Há, demasiada, relativização sobre este assunto.
José Pacheco Pereira, num artigo, de opinião, essencial no jornal Público, de 04 de Fevereiro de 2012, responde a uma das “Perguntas que não levam a parte nenhuma”: “Porque razão os blogues têm cada vez menos importância?”. Uma questão, abrangente, que não ignora mas que ultrapassa, na minha opinião, razões políticas. Ou, qualquer, dinâmica de “conversação”. A imposição económica e a “incorporação”, faseada e social, da ideia de “tempo real”, uma, certa, impaciência para a reflexão, em silêncio, sem “partilha” ou interrupção e esta pulsão, recentemente, fabricada para a, perpétua, intervenção – para a “revolução” – substituem, tendencialmente, a leitura “mergulhada”. O impulso para a escrita longa e demorada
O Twitter – arma de “curadoria”, organização e protesto – para a defesa de valores distintos e, por vezes, opostos -; de disseminação, ultra- rápida, de informação; de marketing pessoal e empresarial – construiu-se, essencialmente, à custa do impacto forte, minimalista, da obrigatoriedade do uso de 140 caracteres. Confrontamo-nos, ultrapassando a linha vermelha, com uma, armadilhada, inversão de ideal´que nos deixa “paralisados” e sem reacção: “terá que ser mais inteligente”. É todo um, novo, caminho a ser criado.
Jornais adoptam a imediatez e o brilho como forma de captação de receitas publicitárias e atenção. Numa tentativa para se combater a dispersão do usuário. Vulgariza-se, assim, a ampliação do tamanho da letra, a utilização da cor forte, o “abandono” – em certos casos: a predominância da – à imagem, ao vídeo, à oralidade. Reduz-se o alcance e a dimensão do artigo. Integra-se o live- blogging. Para uma – na falta de meios – substituição: a ilusão de se estar a ser, melhor, informado. Como “testemunha”. “No local da acção”. Importa “criar” – em sociedade “artística”; da “manipulação” -; fingir um movimento. Para favorecer – não tanto a compreensão do acontecimento – a clicagem constante. Reina a voragem da busca e do link. Não raras vezes: mais da busca do que do link. Chamemos-lhe: zapping digital.
O problema, principal, de todo este discurso e desta tendência, excessivamente, direccionada para o mercado é, exactamente, esse: normalmente só está preocupada com o mercado. Evita a interpretação, a perspectva, a causa e a consequência de médio ou de longo prazo. O “jornalismo”, quando é discutido, circunda questões relacionadas com “rentabilidade”. A importância do rigor e da investigação são relativizadas a favor de uma noção, indiscriminada, de “conteúdo”. Não se questiona, tanto e por exemplo, o facto de existir alguma falta de paciência para a escrita densa e bem fundamentada. Caminha-se muitas vezes, pelo contrário, ainda mais nesse sentido. O artigo “What newspapers have to learn from magazines“, postado por Emma Heald, em 24 de Janeiro de 2012, no Editors Weblog, aponta aquilo que segundo o director da área de design da Bonnier Business Press, Jacek Utko, deve ser a abordagem “criativa” – expressão que, neste momento, serve para tudo – da imprensa escrita para fazer face à decepção, comercial, que o tablet, também, tem constituído. A “solução”, desta vez, passa pela adopção de, pequenas, formas visuais já que estas reinam no universo do Twitter e do SMS. Aconselha, por isso, o uso de secções mais pequenas, com mais pontos, listas, caixas e gráficos para que a informação seja facilmente compreendida. Já não falamos, aqui, de fast- food. Entramos no terreno de uma estética PowerPoint. A estupidificação, clara, do leitor e usuário. A falha deste tipo de abordagem, puramente mercantil, reside no facto de Utko – como de grande parte dos “especialistas de comunicação” – não entender, ou fingir que não percebe, que esta facilitação obrigaria, depois de cristalizada em norma e moral, mais tarde a uma, nova, adaptação em nome da “competitividade”. E o sentido não seria, com certeza absoluta, o da complexificação.
Parece não bastar a proliferação de dicas sobre “como escrever bonito na internet” ou “como escrever com resultados para a internet”. Surgem, adicionalmente, fenómenos como o do workshop para se “aprender a ler mais rápido”. No planeta comunicacional das Breaking News e da última hora: interessa a quantidade. Das postagens que se lêem ou distribuem. É “informação” pela “informação”. Em detrimento de uma intimidade com o texto. Para que seja, melhor, sentido. E, por isto, compreendido e memorizado.
Escreve, num artigo de opinião, intitulado “Mais informação, menos conhecimento“, que pode ser encontrado no blogue Página 23, Eduardo Jorge Madureira: “Não é estranho, por isso, que alguns fanáticos da Web, como o professor Joe O’Shea, filósofo da Universidade da Florida, afirmem: Sentar-se e ler um livro do princípio ao fim não tem sentido. Não é um bom uso do meu tempo, já que posso ter toda a informação que queira com maior rapidez através da Web. Quando alguém se torna um caçador experiente na Internet, os livros são supérfluos. O atroz desta frase não é a afirmação final, mas que o filósofo julgue que se lêem livros apenas para obter informação“. Está “tudo” ali: a sobrevalorização do conceito de “informação” em época de comparação, crescente, entre o cérebro e o digito, a velocidade e já agora, vou “abusar”, a, inescapável, perda de “capacidade” para a demora. Para a concentração. Já lá chegou. Numa assentada: é toda uma “filosofia” – um forma de estar – a “destruir” outra. Se “toda a informação” está na internet: tudo o que foi escrito, até hoje e em literatura, tornou-se irrelevante? Que sentido toma – com que finalidade; devido a qual origem – esta necessidade de esquecimento e de fragmentação? Porque foge, este homem, do passado?
Nada disto se resume a questões de conteúdo ou formato. O idioma – esse imaginário e “esperanto” anglo- saxónico predominante – formata. A ânsia de se aumentar a popularidade mundial, de se ser detentor do “perfil mais seguido” ou a demanda por uma posição, considerável, no “top”, literário, da Amazon conduzem a uma “exigência” de mercado para a utilização do inglês. Que empobrece a representação e o imaginário pessoal. “Conversamos” mais. Contudo: também, mais, da mesma forma. E é, exactamente, porque nos “seguimos” uns aos outros que não é rara a repetição e a imitação de expressões em diferentes plataformas quando estão em causa assuntos iguais. Um exemplo, exaustivo e recente, é a utilização do termo “behemoth” como adjectivo referente a grandes companhias do sector digital ou da comunicação. Outros exemplos: “transparency”, “content”, “narrative”, “innovation”. Na “Era da Criatividade”: também se imita melhor. Por outro lado: inúmeros “evangelistas” dos média e canais informativos incentivam, insistentemente, à utilização de palavras- chave, consideradas, populares. Para que os artigos sejam encontrados, mais facilmente, através dos motores de busca.
Nada disto ficará por aqui. Um artigo de Steve Lohr , “In Case You Wondered, a Real Human Wrote This Column“, publicado a 10 de Setembro de 2011, no New York Times, destaca o trabalho desenvolvido pela empresa Narrative Science no campo da inteligência artifical. Nomeadamente no departamento da criação de software que, segundo responsáveis, imita o raciocínio humano. Recolhe dados, por exemplo, de resultados desportivos para os converter em “artigos”, curtos, que são postados um ou dois minutos depois do fim de cada partida. Tem clientes como a The Big Ten Network, uma parceria entre a Big Ten Conference e a Fox Networks, que passou a usar, a partir da primavera do ano de 2010, a escrita automatizada para recapitular jogos de baseball e softball. Builderonline.com, um sítio dedicado ao mercado imobiliário, utiliza-o para a postagem de relatórios mensais porque, segundo Andrew Reid – presidente na área dos média digitais –, “contratar pessoas ficaria muito caro”. Vamos utilizar a tecnologia como muleta? Ou, afinal, também como substituta – ultrapassando o “manual” – do trabalho “criativo”? De qualquer forma é evidente a formatação estilística e da mensagem que promete a implementação. A comunicação e o jornalismo ultrapassam, assim, a esfera humana.
Existe, claro, “criação”. Mas é dinâmica que em, grande medida, se inclina para o campo da tecnologia, das aplicações, do desenvolvimento de redes sociais, do open source. Estratégias e refúgios de um mundo instável e atomizado onde a sobrevivência, individual, não está garantida. Um “gesticular” que é causa e espelho da crise económica e financeira.
Tende, por outro lado, para a imagem, o design, a “interactividade”. Para o comércio da sensação que os valida. Este impulso para o toque, a sensualidade e a manipulação – uma forma, algo, inquieta, para se interferir; “participar” sem esperar – reduz a relevância do que é, textualmente, transmitido, da interpretação e do contexto. Mas o multitask que inquietou – reduziu, com o passar dos anos, a “capacidade” de concentração do usuário – serve, agora, de motivo e justificação. O aumento da utilização do vídeo, a gamification of news, a mulher, na imagem em movimento, de saia ao vento: a informação é agora, mais do que divertimento, “experiência”. Nada poderá ser “boring”. É exigência grátis e “fun”. O que existe de “realidade” – de responsabilidade – é, não convertido, mas moldado na direcção de, ainda mais, entretenimento.
Proponho por isso, sempre que possível, um exercicio de “força contrária”. Existe um paradoxo entre um mundo que se complica e um imaginário que, de forma extrema, se comercializa; se simplifica. Parece-me ser necessária uma resistência. Evitar regras, “requentadas”, servidas, muitas vezes, por quem nunca teve um interesse, genuíno, pela escrita ou por um tipo de “literatura” que não seja comercial. Fugir, um pouco, à noção de fabricação do “conteúdo”. Não ter, demasiado, receio da metáfora devido a uma “necessidade” de se alcançar a “legibilidade” perfeita. Que, no fim de contas, é baseada em conceitos abstractos, pessoais e subjectivos, de “normalidade” ou “igualdade”. Que acabam, sempre, por tudo nivelar e, por isso, empobrecer. A atenção à forma não é, apenas, estilo e “arrogância”. A diferença e a experimentação constituem, também, uma mensagem e um sentido. Nem que seja: o da liberdade pessoal. Esquecer, por momentos, a popularidade. Transferir a noção de quantidade. Da postagem para a letra. Para um significado. Precisamos de “mundo”; de “complicação”. A realidade, bem o sei, é, actualmente, distinta. Cada um poderá construir, contudo, um tempo próprio. Para que exista interpretação. Mais pessoal. Também por isso: mais rica e verdadeira. É que nem tudo é “data”. E, com certeza, nem tudo é “content”.
Afonso Duarte Pimenta
“Conectividade” limitada: “igualitarismo” informativo e ilusão democrática
É o momento para sermos exigentes: o ponto em que promessas, por vezes, um pouco vagas e, em certos casos, bastante ilusórias, sobre comunicação e “liberdade”, nos parecem asseguradas.
A rede social promove e desenvolve a, muito, publicitada “conectividade”. Não lhe confere, contudo, qualidade no que respeita ao “conhecimento” – à “informação” – que distribui. Em tempos de “curadoria” – do “jornalista- cidadão” – levanta-se a necessidade de uma “educação para a fonte”: para a leitura, completa, do artigo, da notícia ou reportagem. Antes da, respectiva, postagem. Para que se evite, o mais possível, “a conversa”, simplesmente, em redor do título ou da leitura em estilo “diagonal”; o comentário, irreflectido e impulsivo, motivado pelo desejo de “participação”.
Nada se constrói com um fluxo, ininterrupto, que descure a selecção. De nada serve, para uma observação, objectiva, da realidade, somente “comunicar”. “Exige-se”, ao mesmo tempo em que aumenta a produção e a circulação, numa internet que se agiganta, diáriamente, com, múltiplas, perspectivas e “conteúdos”, um certo travão e, algum, refrear: o “regresso” da “edição”.
É comum o “ódio” ao jornalista, o de aparência mainstream, na caixa de comentário. Como também o é a, demagógica e conveniente, defesa da “internet” contra aquilo que é denominado, artificialmente – não sem prazer e desprezo -, como “jornalismo tradicional”. Como se aquela se fizesse, ou actuasse, apenas por si. Não devido a uma intervenção humana. Como se fosse batalha, imprescindível, em nome de uma noção, muito confusa e baralhada, de “igualdade”. Em vez de se tentar a, mais do que necessária, síntese e, verdadeira, “colaboração”. É que “tradição” é denominação que se perdeu – esvaziou – face a uma, bem fomentada, dinâmica, “perpétua”, de inovação industrial e tecnológica. Tudo é, simultâneamente, passado, presente e futuro: “arcaismo”, novidade e aspiração.. É, contudo, expressão, eficazmente, aproveitada. No incentivo ao gadget sucessivo. À atenção, redobrada, ao “guru”, de mercado, que se segue. O próximo, “especialista”, a levantar o dedo. Na multidão: “Eu tenho A solução”. Escusado será dizer: uma solução para a continuidade da necessidade. A estabilidade, aqui, não interessa. Nem alimenta a economia digital. Deitemos fora as ilusões. Vendem-se, novas, dependências. O êxtase e o, rápido, orgasmo desta sensação de modernidade: “Por favor! Uma nova aplicação!”
Múltiplos suportes e plataformas “respiram” ainda, apesar de tudo – embora não só -, através do que lhes é fornecido por, alguns, orgãos de comunicação “com história”. Onde meios e quantidade não significam, unicamente, lucro ou “controle corporativo”. Mas qualidade que se tornou padrão, referência, imagem de marca. Jornais há muito reconhecidos, agora também em linha, estão entre os que continuam a atrair um grande número de visitantes. Moldando – também para o bem – o panorama, político e social, informativo.
Não existe blogue, comentário ou texto avulso, fundamentado, que possa dispensar uma comunicação social financiada. “Novos modelos de negócio” eficazes, para uma informação séria, tardam, apesar de, sistemáticos e repetitivos, anúncios anuais, em se solidificar. Os, cada vez mais, baixos rendimentos de uma publicidade, digital, dispersa e fragmentada mostram-se insuficientes para garantir uma democracia que não derive para uma preferência, maior, por um entretenimento que tende a isolar em vez de “pôr em contacto”; de contribuir para uma atitude critica – documentada – relativamente ao poder estatal e empresarial.
Relativizar – desvalorizar- a sociedade do gratuito pelo gratuito, da oferta contínua e do garantido; resistir à chantagem, em espiral, por parte de um tipo de consumidor infantilizado: ergue-se, aqui, a necessidade de um apelo, superior, ao papel da responsabilidade pessoal. Que estamos a dar em troca? É, precisamente, devido à, actual, crise, económica e financeira, internacional, ao recuar de liberdades que a desatenção, crónica, considerava garantidas, ao “ressurgir” – como se não estivessem, sempre, à espera – dos nacionalismos e fanatismos, morais, habituais – que deveriamos voltar, sempre que pudéssemos, a pagar por uma informação que valorizamos – porque, afinal, nos servimos dela, constantemente, para “enfeitar o perfil” -. Porque nos permite continuar, ainda, em democracia. Para que dependa menos de uma publicidade ou direcção, ideológica, “encapotada”, de “subsídios” e “reestruturações”. Para que sejam reduzidas falências e despedimentos. Para que seja protegido um género de investigação que nada substitui. Para que meios de comunicação e informação, ainda, com qualidade não se vejam obrigados – como tem acontecido habitualmente – a mudar de estratégia. Em direcção a critérios de selecção, unicamente, comerciais. Contribuimos, ao descartá-lo, também para a crise.
Apesar de, alguma, standardização, fictícia e formal, que surgiu com o digital: nem tudo vale o mesmo. O Daily Mirror não é o El País. Uma plataforma, de rumores, como Drudge Report ainda menos pode ser colocada a par de um Le Monde Diplomatique. A temida “propaganda” e “manipulação”, em tempos de uma certa paranóia, generalizada, anti- establishment, não se detém nos veículos que mais nos parecem ameaçar. Pelo poder que aparentam ou que, sobre eles, projectamos. O usuário “comum” e a escrita que instrumentaliza não são menos perversos, em intenção, quando pretendem difundir a mensagem que lhes interessa. A desinformação, em redes sociais, blogues e caixas de comentários, é mais do que vulgar. Com uma “agravante”: ao ser, superficialmente, “inofensiva” é mais tolerada. Não tem uma ética, um nome, uma carteira, profissional, a defender. Deixemo-nos de paixões. Precisamos de jornalismo como ele precisa de nós. Um smart- phone ou meia dúzia de opiniões, embora indispensáveis, não bastam.
A “conectividade” não é, por isso, suficiente. Precisamos de sentido, interpretação e contexto. Não tanto de uma “personalização” que nos distancie. Cabe-nos “recuperá-los”. É que a noção de “igualdade”, aqui, pode ser sinónimo de populismo. Ficção e desistência. Por paradoxal que pareça: de anti- democracia. Por evitar distinguir. Por pretender fingir – ao ponto de o “materializar” – que, para melhor se integrar, há um esforço que deixou de ser critério. O problema de fundo é o ataque, indiscriminado, a tudo o que tenha ares de “poder instituído”. Em nome de que substituição ou, nova, “manipulação”? De que, outro, “poder instituído”? Fazer “a revolução”: sim. Sem auto- destruição.
Afonso Duarte Pimenta
Download: “Passivo” (Consumismo Agressivo/ Do Medo do “Elitismo” II)

Não estamos, felizmente, ainda a partir montras. Para além de uma obsessão – um fascínio – pelo ecrã, devido a uma capacidade de representação – e publicação – colectiva, o que o diluiu, tornando-o, ao mesmo tempo, impessoal e omnipresente, imprescindível e irrelevante, diversificando o “consumidor”, colocando-o, finalmente, como “artista”; figura “mediática”; mais do que uma pulsão para a filmagem e transmissão: abraçamos uma aparência; um ideal, forjado, de “democratização”.
Estamos, por causa de uma necessidade de desforra relativamente ao fenómeno de glamourização – construção do estatuto de “estrela” – da sociedade do espectáculo que percorreu, principalmente com a ascenção do cinema, todo o século XX, a reduzir as possibilidades de remuneração em determinados sectores do trabalho jornalístico e cultural. Não os financiando. Sem “novos modelos de negócio” que, embora amplamente anunciados, os substituam, verdadeiramente. Limitamo-nos, progressivamente, a uma realidade tecnológica em constante mutação e fragmentação. Que assegura, essencialmente, a distribuição. Através de uma publicidade de retorno reduzido. Por causa de uma dispersão e impossibilidade de financiamento suficiente – ou possibilidade de financiamento insuficiente: resistindo, o usuário, a pagar pelo que consome – é obrigada a reduzir a mão- de- obra – para lá da exploração, via substituição e submissão, graças ao aumento da mecanização, robótica e do software disponível -, favorecendo o multi-task e, por isto, a erosão de uma capacidade de concentração, análise e reflexão. Indispensáveis a uma interpretação individual e, por isso, social, mais ou menos, objectiva. Imprescindível a uma produção, densa e fundamentada. Que nos afaste, um pouco, da desinformação – do espírito de fábrica – vinculada por um mercado escravizado pela rapidez, pelos “objectivos” e “resultados” imediatos. Precisamos, mais do que nunca, de uma visão de conjunto. De um espírito, de integração, que beneficie o produzido. Em detrimento da forma. E do efeito.
Embora exista um discurso, actual, que parece valorizar o “conteúdo”: este é apenas acessório, facilmente substituível pelas condicionantes, arbitrárias, do mercado tecnológico. Meio descartável e, sempre que necessário, modificável. Veículo para uma disseminação do gadget, da plataforma, da aplicação. O que nos desloca para um género de pensamento, tendencialmente, enclausurado na programação informática, na “ditadura” da “conectividade”. Em certo sentido: numa predominância do raciocínio matemático.
O aperfeiçoamento das técnicas de sedução – não sem alguma perversidade – por parte de um, venerado, espirito de marketing que está, actualmente, por todo o lado – para se atingir uma “marca”; um “valor de mercado” – fazia algum sentido quando não era, ainda, parte constituinte de um tipo de sistema que, entretanto, se tornou auto- destrutivo e desesperado. Devido, em grande medida, a uma atomização e multiplicação das actividades comerciais: todos somos, a partir de agora – e simultaneamente -, “CEO´s” e o artigo que vendemos. Media-se uma eficácia quando se considerava o “cultural” em pé de igualdade com outro produto qualquer. Integrado e inerente: não escravizado por um olhar – uma ideologia -, exclusivamente, digital. Merecedor de uma valorização que se despreza, agora, como adicional.
Embora, para se pacificar, haja quem o tente negar: um preço – interpretado, aqui, como “dificuldade”; acima de tudo: responsabilidade – acrescenta, sempre, algo ao desejado: a existência do outro, nada virtual, que o concebe. O que pode, dentro desta perspectiva, significar quase tudo. Uma obra de ficção, um álbum de originais ou um jornal serão melhor aproveitados se for “complicada” a aquisição. Ganhando, com isto, um significado – aqui sim – “comunitário”. Porque o discutido é aprofundado.
Mas o individualismo, contemporâneo, exige conforto – “receamos”, contudo, que tenha, brevemente, que se adaptar à impossibilidade de um regresso; a uma outra forma de estar. A desestruturante competição “empresarial” desenha-se sobre uma, inesgotável, demanda pela oferta e facilidade. Acontece que o bem estar físico não se traduz, de forma inevitável, em emocional. Levanta-se, pelo excesso, “estranha” intuição. A chegada desta sensação, afinal, entediante: de a tudo se aceder. Um enfraquecimento dialético. Não parece, por aqui, haver muito a conquistar.
A noção de valor é anarquizada e subjectivada ao afastarmos o “criador” do processo. Sujeita, em larga escala, a variáveis que em nada se relacionam com o objecto. Mas com inclinações momentãneas – inconscientes, desonestas, ressentidas – por parte de quem “avalia”. Com uma tendência, natural, para uma diminuição, em espiral, ou eliminação. Por se encontrar ausente de uma normalização ou regulamentação que lhe confira protecção; um maior equilíbrio. Relativamente à utilização, anterior, do adjectivo “criador”: tenho que ironizar. Não no sentido que se possa, normalmente, considerar. Há que usar, aqui – para se fazer um favor – , um jargão pouco “económico”. Embora exista, por vezes, a sensação de que é, exactamente, terminologia como esta – contaminada, moralmente, por uma raiva – que “condiciona”, por vezes, a um não pagamento.
Generalizou-se, nos últimos anos, com a proliferação de estratégias de divulgação que têm por base o conteúdo oferecido – na impossibilidade: com a multiplicação de mecanismos, como o download, para o tornar oferecido – uma espécie de “feira digital” que o confundiu ao ponto de ser considerado como “direito”, no tempo de todos os direitos – principalmente de alguns que devido a um abuso, talvez – quem sabe – excesso de mimo, provocam uma inversão tal que quase – ? – roça a desigualdade: o de “sermos informados” – sem uma contribuição; quando se fala – tanto – de “sociedade civil” – mas, preferencialmente, entretidos. O que se converteu, rapidamente, em exigência, tornada inevitável, de fuga e alheamento. Mesmo que estas sejam também uma causa. Porque o método é apenas atalho. Tudo isto é, igualmente, arbitrariedade: devido a uma dificuldade em legislar; incapacidade, até ao momento, de controle – do estado – da internet; da internet como estado: um governo, se impotente – quando se vê incapacitado para agir -, também costuma, para se popularizar – e fazer esquecer -, “privatizar”.
Existem termos que se adequam menos do que se pretende acreditar: “espírito de colaboração”: que género de “partilha” existe no facto de se fazer uma descarga, desde sempre não consentida, de um ficheiro, com uma obra que nunca nos pertenceu, ainda está por apurar. Beneficiar o consumidor, pondo de parte o “autor” – “esse prepotente; como ousa intitular-se assim?” -, é metade da “revolução”. Mas – creio poder-se dizer -: não há memória de alguma sem um pouco de “sangue”. É claro que o tentaremos “limpar” ao, como exemplo, exclamarmos: “Com o download dou visibilidade a um agrupamento que, de outra forma, seria, para sempre, desconhecido”. Um salvador. Os diferentes processos que levaram à fabricação e aceitação deste tipo de falsificações como “verdades” e normas sociais foram, contudo, indispensáveis ao mecanismo de transição para o digital, à emergência e tomada de poder por parte de novos actores, empresariais e profissionais, na re – hierarquização, mundial, em curso. Foi fácil persuadir: a quantidade – uma maioria – transforma tudo – à primeira vista – em “democracia”. Não está – pelo contrário – em formação uma distribuição das oportunidades nos termos em que se pretende assegurar. Foi este o golpe de génio. Inatacável pelas expectativas que criou. A “promessa” que constituiu, essencialmente, uma manobra para efeitos de propaganda. A manipulação argumentativa a olear a engrenagem.
O universo empresarial pensou a sociedade do gratuito como “inevitável”. Incorporando-a; favorecendo-a. Colocando-a, de vez, no patamar da moral: uma causa a defender. Não se trata, já, do “melhor produto” a ser vendido ao menor preço: a competição é pela oferta. Devido a uma abundância: o “normal” passou a ser, frequentemente, desinteressante. O “exclusivo” ou “especial”considerado como algo vulgar; mais ou menos apreciável, dependendo do “tempo”, de uma tolerância e disposição. De uma “boa vontade”. Não é difícil compreender que tanta espera – tão pouco esforço – não revela – beneficia – um crescimento ou maturidade. Há qualquer coisa de falha fundamental nesta tentativa de erosão de uma possibilidade de trabalho em sectores, teoricamente, desejados.
Podem – jornalista, escritor, cineasta, compositor – continuar a esbracejar. Dir- lhes- emos – para uma consciência mais tranquila – que o fazemos, únicamente, para “os ajudar”. Em prol de uma luta – pedida por quem? Não chegou ao contrato? – contra a “exploração da multinacional”. Como se não estivesse a ser posto em causa, a partir deste momento, também um mundo “independente”. Por vezes, e em última análise, bastante solitário. Mesmo que, com esta atitude, façamos quadruplicar os lucros de outra. Desta vez em sector alheio: o tecnológico e o digital. Poderiamos, num repente, inventar uma designação. Talvez: sobre- exploração?.
Tudo isto se assemelha a “espírito de natal”. Vem-nos, subitamente, à memória aquela criança – asfixiada por prendas; cercada de adultos – que começa a rasgar o segundo embrulho antes de acabar, de abrir, o primeiro. Finalizou a visualização do último vídeo dos Artic Monkeys antes de o colocar na rede social?
Não ajuda qualquer negócio: palavra intrusiva, chata, inoportuna. “Devia resguardar-se; mostrar algum decoro”. Isto: se aplicada ao sector cultural. Mesmo que seja, por aí, distribuído – com toda a sabedoria do “guru” da economia – que “acabou o tempo do emprego para a vida”. O tipo de advertência que, para além de ser alarme, materializa uma sentença. Contudo: bateremos palmas ao ultra- monopólio que nos fizer a vontade – mesmo que, pelo caminho, arrecade vários milhões; nos disponibilzar a biblioteca ou uma “nuvem”; nos substituir a cópia pelo original: uma das “caracteristicas” da cloud – da Apple – é, exactamente, a possibilidade de “renovação” automática, através de um sistema de detecção, de temas musicais, anteriormente, adquiridos por nós. Agora com qualidade sonora superior. Uma porta, aberta, fatal. Para a institucionalização da pirataria. Para uma injusta distribuição. Entretanto: as “indústrias culturais” são realçadas – pelo governo; por um “criativo” – como “motor” de uma futura – e, aqui, atenção ao advérbio – “recuperação económica”. Mea culpa: eu, no passado, incluído.
Não beneficia o “consumidor” que poderá aspirar, um dia destes, a ser autor. Mas que, provavelmente, acabará, também, a desenvolver “aplicações”. Por exemplo: de “conteúdos personalizados”. Uma das propostas mais recentes, antes da próxima, para se “monetizar” informação – devedora, sem dúvida, de uma certo egocentrismo e autismo existencial; ou a conceber outra qualquer – talvez desnecessária até ao momento da sua criação – para telemóvel. Se, entretanto, o conceito não tiver desaparecido. Sido substituído devido a uma inovação permanente. Que não “pretende”, porque incontrolável, mudar de direcção. Para onde o limite de velocidade seja um pouco mais humano. Prefere, de facto, o desvio contínuo. O desatino contínuo? Instabilidade perpétua a ser vendida como “progresso”.
Há uma diminuição, considerável, em termos de satisfação quando se encontra ausente uma luta pela obtenção. Do que o outro produz. A não ser que, através desta passividade, tenhamos descoberto – e aproveitado – para um novo prazer: usufruir da recusa. Exactamente: porque o outro produz. Todos, somos, agora: um “artista”, “actor” e avatar. Atravessamos o ecrâ. Estamos, por fim, no centro do palco. Se, contra toda a lógica, acreditamos nisto: para quê pagar? Debaixo de um outro foco – um pouco mais real – alguém se ri. Sabe o que iremos comprar. Conhece a razão. E, antes de correr as cortinas: agradece.
Afonso Duarte Pimenta
Cumplicidade: entre online e papel, entre jornalistas e leitores
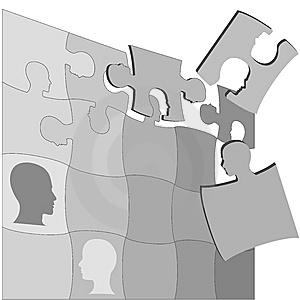
Imagem obtida em http://foreverandeveryday.wordpress.com/
Nuno Miranda Ribeiro
Já aqui o disse, não há nenhum motivo para que o online e o papel sejam concorrentes ou adversários. Pelo contrário, estão reunidos todos os elementos necessários para que sejam complementares. Sou crítico de uma parte dos motivos para o recurso ao chamado “jornalismo de cidadão”, mas isso também não significa que desconfie de tudo o que é produzido pelos cidadãos, muito menos desta forma de trabalhar voluntariamente, em regime colaborativo, que está na génese de projectos como a Wikipedia, o WikiLeaks e de inúmeras aplicações open source, como o Linux e de produtos como o Firefox e o Gimp.
O mundo não é o mesmo de quando os jornais eram a principal fonte de informação sobre os acontecimentos e a realidade. Os cidadãos já não são meros receptores, assimilando a informação de forma directa e passiva, como descrito na Teoria da Agulha Hipodérmica. Mesmo as perguntas feitas no modelo de Lasswell já não são suficientes para se poder compreender como a informação é produzida, difundida, recebida e retransmitida. Há uma noção de que cada pessoa é, por si só, um produtor de informação. Existe nessa ideia simplista algum excesso de optimismo que deturpa, ou pelo menos amputa a realidade. Talvez seja útil usar uma analogia das tecnologias de comunicação.
Dentro de recintos de grande dimensão, como os centros comerciais, existem inúmeras pequenas antenas, conhecidas, entre outras designações, como reflectores, e que têm por função precisamente reflectir o sinal das antenas maiores, localizadas no exterior, para que os utilizadores dos recintos tenham rede de telemóvel. A ideia de que cada cidadão é um produtor de informação parece implicar que cada pessoa seria uma redacção (digamos, uma redacção de uma rádio), produzindo o seu conteúdo e difundindo-o. Ora, estou convencido de que cada um de nós é como uma dessas pequenas antenas reflectoras, que servem para reflectir o sinal, dentro de determinado contexto e com alcance razoavelmente limitado. Não quero insinuar que a nossa capacidade de “reflectir” a informação que captámos é menosprezável. Pelo contrário, é potencialmente muito poderosa esta capacidade de inúmeras antenas formarem uma rede ampla, de “contaminação” rápida e eficaz. Prova-o a propagação viral de memes, de todo o tipo de vídeos e textos, que alguém concebeu e que os utilizadores da internet em todo o mundo retransmitem com enorme rapidez.
O que pretendo dizer com o recurso a esta analogia é que a eficácia da retransmissão da informação (aliada a uma crescente e exponencial desvalorização da autoria) nos dá uma falsa sensação de poder. Falsa, não porque o poder não exista, mas porque pensamos que o poder está onde não está, verdadeiramente. Ser reflector, com imensa capacidade de propagar informação (quando e se aliado a um número considerável de outros reflectores), é ser parte de uma rede de retransmissão, não é ser produtor da informação. Existe, creio, uma dificuldade de auto-contextualização. Acredito que a maior parte da informação credível e fundamentada que circula continua sobretudo a ser produzida pelos jornalistas, mesmo se depois é retransmitida nas redes sociais, dissipando-se a autoria e a proveniência, havendo mesmo deturpações e omissões em relação à informação original.
No entanto, muitos cidadãos de todo o mundo, de facto produzem e ajudam a partilhar informação, como demonstra o exemplo óbvio da Wikipedia e o recentemente noticiado caso do WikiLeaks. Mais dentro do contexto a que me refiro, vários jornais estimulam o envio de textos “mais ou menos jornalísticos” por parte dos leitores e publicam-nos. No Editors Weblog, é analisado o caso do Jornal Brasileiro Zero Hora. Este jornal, com uma penetração de 78% na faixa etária dos 20 aos 29 anos e de 71% dos 15 aos 19 anos, publica conteúdo enviado pelos leitores. O aumento de 2% da circulação do jornal impresso em 2009 é um sinal de que as estratégias adoptadas estão a dar bons resultados. Desengane-se quem pense que receber textos e imagens dos leitores é uma forma de o Zero Hora compensar o fraco investimento nos meios humanos, como é comum acontecer noutros jornais. O jornal brasileiro tem uma redacção de 210 jornalistas, integrando equipas especializadas na versão online e na versão impressa, que procuram trabalhar de forma integrada.
É frequente encontrar, em jornais que já existiam muito antes de começarem os jornais online, um padrão de evolução que é diferente do caso do Zero Hora, ou, pelo menos, a evolução do Zero Hora levou-o a uma situação actual diferente do mais comum. Muitos jornais abriram o site, inicialmente com pouca informação, para se projectarem como jornais modernos, que não perdem o comboio. Era, como antes acontecia com a maior parte dos sites institucionais, uma forma de afirmarem a presença online, mesmo se o site não oferecia mais do que um rosto dessa presença na web. Gradualmente, o contéudo da versão impressa foi passando para a versão online. Por esta altura já era comum haver “notícias de última hora”, ou pelo menos algumas notícias breves que iam sendo publicadas online ao longo do dia. A partir de certa altura começaram a popularizar-se os feeds e os jornais adoptaram-nos. Primeiramente, criando apenas um ou dois feeds, agregando todas as notícias no mesmo feed, ou separando-as num feed de notícias de última hora e noutro feed com as notícias principais. Rapidamente, começaram a segmentar os feeds, passando a haver um feed para notícias de economia, outro para notícias de política, outro para desporto, outro para sociedade e assim por diante. Vários jornais melhoraram a busca de notícias no site, proporcionando na sua página web uma forma muito prática de consultar edições passadas. Alguns jornais de maior dimensão e capacidade de investimento, transferiram mesmo todas as edições passadas para um arquivo online. Nesta altura, era já frequente encontrar avisos do género “conteúdo premium, para aceder, por favor registe-se”, já que algumas ferramentas, como a busca dentro do arquivo, passaram a ser pagas. Uns jornais foram mais longe do que outros, na transição para os serviços pagos. Alguns jornais acharam que os artigos de opinião seriam mais valorizados e tornaram-nos conteúdos pagos, outros jornais acharam que o que os leitores valorizariam mais, ao ponto de aceitarem pagar, seriam funcionalidades, como a busca avançada (por exemplo, fazer pesquisas no arquivo inteiro do jornal). Chegados ao presente, mesmo alguns dos jornais que sempre mantiveram a sua edição online inteiramente gratuita, passaram a cobrar alguns conteúdos e funcionalidades ou estão a ponderar fazê-lo.
Segundo o artigo, a edição online do Zero Hora dedica-se sobretudo às notícias de última hora e ao multimédia, como é comum com outros jornais. A opção que os distingue é que no site são publicados “teasers”, chamando a atenção para a reportagem de fundo que será publicada na versão impressa no dia seguinte. Altair Nobre, o editor do Zero Hora, disse ao Editors Weblog que não faz sentido esconder conteúdo da edição online, porque isso afecta o impacto que a informação poderia ter. De facto, o que acontece é que as notícias, os artigos de fundo, têm prioridade na versão impressa, sendo nesta publicados primeiro; mas, mais tarde, durante o dia, passam também a estar publicadas na versão online. Neste caso específico, os leitores não parecem sucumbir à filosofia, “se está ou vai estar disponível online, não vale a pena comprar o jornal impresso”. Pelo contrário, o online tem ajudado à venda do jornal impresso. Nada de muito dramático, nenhuma tecnologia de ponta, nenhuma invenção espectacular foram usadas. Simplesmente se procurou promover o jornal impresso como o local de destaque e eleição para o aprofundamento das notícias. E os leitores, que no caso deste jornal, são sobretudo leitores jovens, aderiram. Talvez não sejam universalmente aplicáveis as estratégias do Zero Hora. Mas parece-me inspirador que um jornal cujo público alvo é o público jovem consiga valorizar a versão impressa, que, sendo paga, ajuda também a pagar a versão online.
O envolvimento dos leitores é valorizado por este jornal brasileiro, sendo mais substancial, parece-me, do que noutros jornais que também o procuram alcançar. Além das imagens e textos de leitores que são publicados, há o caso de um jornalista que publica vídeos na sexta-feira sobre a história que será publicada no sábado no jornal impresso, criando mais proximidade com os leitores e envolvendo-os mesmo antes da publicação de facto. Mas não existe propriamente um deslumbramento com o caudal de informação propagada pelos cidadãos. Diz Nobre que os jornalistas do Zero Hora usam as redes sociais para acompanhar aquilo de que as pessoas estão a falar, mas avisa que esses meios podem ser uma boa fonte de notícias mas também uma armadilha. Além disso os jornalistas com contas em redes como o Twitter são aconselhados a ter cuidado com o que publicam nesses meios, para que não ponham em causa a sua credibilidade enquanto profissionais. O relativo sucesso do Zero Hora deve inspirar-nos. Sem ter descoberto uma fórmula milagrosa, antes usando integradamente estratégias que já existiam, consegue ter sucesso simultaneamente com a versão online e a versão impressa. Uma sustenta a outra e as duas prosperam – não será isto aquilo a que a maior parte dos jornais aspira?
O que é isso de defender o Jornalismo Escrito Pago?

Imagem obtida em http://o-estuque.blogspot.com/
Nuno Miranda Ribeiro
Porque o MFJEP é um projecto de três pessoas, com divergências e concordâncias (as segundas sendo mais abundantes que as primeiras) e porque não existe um manifesto ou uma lista de intenções, decidi expor, de forma clara, as ideias que defendo neste contexto. Sei que são muito próximas, e coincidentes em alguns casos, com as ideias do Afonso Pimenta. Mas irei falar em meu nome. Para contextualizar as posições e as motivações que nos levaram a iniciar o MFJEP é bom relembrar os textos com que tudo começou, agrupados em “Porquê o MFJEP?“.
I – Defender o jornalismo escrito pago não é defender o papel contra o online
Sobre o futuro das publicações em papel só conheço especulações e exercícios mais ou menos interessantes de adivinhação. Reduzir o uso do papel parece-me bem, do ponto de vista ambiental. Reconheço que as novas gerações terão muito menos apego aos livros de papel, aos jornais e revistas que a minha geração e as anteriores. E isso, só por si, não me alarma. Tenho curiosidade em relação ao leitores de e-books, acompanho as novidades no que toca à organização dos feeds, sou cliente habitual de páginas online. Não vejo um conflito directo entre o papel e o online – e talvez isso seja uma característica essencial da minha geração (falo, obviamente, dos que se interessam em ler e em acompanhar as notícias). A minha geração, a dos que agora são trintões, fez a transição. Tive endereço de email aos 17, 18 anos. Comecei a ler jornais na versão online aos 23, 24 anos. Tive o primeiro blogue aos 28 anos. Comecei com o papel, como todos os que têm a minha idade. E se tive um ZX Spectrum aos 10 anos de idade, só tive o primeiro PC pessoal já com 27, 28 anos – embora trabalhasse, na escola e no trabalho, com computadores desde os 16 anos. Não tenho nostalgia em relação a uma era dourada, nem fobia em relação a um futuro incerto. Os meios vejo-os como são: meios e não fins. A vinda das ferramentas online recebi-a com entusiasmo, que se vai renovando.
II – Defender que o jornalismo deve ser pago é essencial
O jornalismo sempre se debateu com as questões da independência editorial e da viabilidade financeira. Sempre houve tentativas de controle, por parte dos poderes políticos e económicos, sobre o conteúdo e a orientação dos jornais. Assegurar a autonomia, garantir independência editorial e sustentabilidade económica, sempre foi problemático. O modelo económico com que chegámos a este ponto assenta na publicidade nas páginas dos jornais e no preço da capa. A publicidade é mais cara se aparecer num produto de grande consumo e mais barata quando aparece num produto de pequeno consumo – com a excepção de alguns nichos mais bem pagos. Para os jornais, ver as vendas baixar é ver reduzir o preço a que podem vender espaço para publicidade. Somos nós, consumidores, leitores, cidadãos, que podemos e devemos financiar o jornalismo. É a forma de financiamento mais simples, mais directa e a que faz mais sentido. É que somos nós os destinatários das notícias. É por nós que se fazem reportagens e entrevistas. Não faria sentido esperar que o Estado financiasse os jornais (que são e devem ser independentes). Não podemos esperar que os agentes económicos financiem todos os jornais de forma benemérita e desinteressada. Mas podemos comprar j0rnais. Está ao nosso alcance e ao alcance da nossa carteira. Um euro por dia não é uma fortuna. E se fizermos subir as vendas dos jornais, ajudamos a que se tornem viáveis.
III – O modelo do Huffington Post não é exportável
Sim, existe pelo menos um jornal no mundo que, tendo apenas versão online, é um sucesso comercial e produz jornalismo de qualidade. Mas isso não nos pode alimentar a esperança de que se os nossos jornais portugueses passarem a ter apenas versão online poderão funcionar, financeira e jornalisticamente. O Huffington Post é um jornal estado-unidense, com base no país com a maior economia mundial e que é escrito na língua mais falada no mundo. Os seus potenciais leitores contam-se em centenas de milhões. Nenhum jornal português pode ambicionar ter as visitas diárias que o Huff Post tem. E, online, o valor a que se vende espaço para a publicidade depende disso, do número de visitas diárias. Neste momento, a receita publicitária dos sites dos nossos jornais é escassa, não chega para financiar a página online. E não vejo, sinceramente, maneira de a coisa evoluir de forma positiva. Eliminar os custos da versão em papel é também eliminar a receita da publicidade no papel. E sem esta onde é que se vai buscar forma de financiar os jornais portugueses? Seria viável financiar um jornal (que passasse a ser apenas online) apenas com a receita da publicidade online mais a receita de algumas centenas de subscrições? Numa era em que o gratuito se vai tornando a regra é realista esperar que os leitores, que vão diminuindo, passassem a aceitar que para ler um jornal online é preciso pagar a subscrição?
IV – Está em perigo a qualidade do jornalismo
A situação actual está longe de ser a ideal. Não defendo a o jornalismo em Portugal conforme está contra um futuro ameaçador. Actualmente as redacções estão cheias de estagiários não-pagos ou muito mal pagos, em situação precária e sem tempo nem formação nem memória para se saberem defender ou para saberem defender a integridade da deontologia a que estão obrigados. Muitos dos jornalistas seniores, com mais experiência e memória, foram afastados, despedidos ou isolados. Cada vez há menos dinheiro e menos vontade de gastar dinheiro na investigação. Um jornalista típico é alguém que tirou a licenciatura nos últimos 3 anos, não está vinculado com o seu empregador, muitas vezes não é pago e que, sem sair da redacção, tem de escrever várias notícias para a versão em papel e actualizar a versão online. Tudo em pouco tempo. E sem tempo dificilmente se ouvem todas as partes, se confirmam convenientemente as pistas das fontes – sem tempo, o jornalismo é uma sucessão de relatos apressados, incompletos e minados de erros, e não a construção de histórias bem contadas, fundamentadas e assertivas. Sejamos claros, o jornalismo português actual tem muitos problemas. O facto de o seu modelo de financiamento estar em ruínas, sem substituto à vista, só vem agravar a situação. Redacções com pessoas inexperientes, pseudo-especialistas em conteúdos e actualizações do twitter, com pouco de jornalista ou de repórter; departamentos de marketing com muito mais peso e capacidade de decisão sobre conteúdos e orientações do que os editores é o que parece vir aí. É a qualidade do jornalismo que está em causa. Se lemos em papel ou em ecrã também importa. Mas isso é pormenor, pesado na balança com a ameaça séria à qualidade da informação produzida. A democracia precisa da vigilância, da independência e da força dos jornalistas. Tendo em conta o que está em causa, um euro por dia é um preço muito razoável a pagarmos.
Do Medo do “Elitismo”: Chantagem Cultural

Imagem retirada de http://www.ehow.com/
Afonso Pimenta
Começou a guerra pela exposição. Embora a noção “jornalismo de cidadão”; apesar da justificação democrática: o twitter é, além de atalho, mais do que um passo na aniquilação da diferença. Apelidá-lo de “jornalismo”, apesar de instrumental, peca por abuso. Na ausência de um provedor. Na inexistência de um livro de estilo. Mesmo que utilizado, como exemplo, para relato, mais ou menos nebuloso, de manifestações de vigília e protesto como as que ocorreram no Irão. Ou para denúncia face à fraude eleitoral por parte do regime de Mahmoud Ahmadinejad. A não ser que “cidadão”, aqui, seja sinónimo de impreparação. Posto às claras.
Na recente aproximação cultural entre leitor e jornalista – audiófilo e compositor; aspirante e autor – um criador está, doravante, sujeito a inclinar-se – e a oferecer – em nome de um novo conceito libertário. Sob pena de ser rejeitado. “Preserva, ainda, uma intimidade? O seu direito? Individualidade? Aponto-lhe um dedo. Anti- democrata!”. Contudo, como bom “comunismo”, será, ainda assim, consumido. Mesmo que mal digerido: será bem descartado. Com 140 caracteres.
O sonho, a projecção e a imaginação tomam a forma de uma amizade. Redutora de conteúdos. A megalomania, hoje incolor, era privacidade. Vontade de criação para algo maior. Agora é plural, de contacto, de partilha e, acima de tudo, acessível: nivelada. Em detrimento de um confronto: originalidade perigosa. Criar, na zona cinzenta, não é nada civilizado. É o medo do elitismo. Promovido, e utilizado, pela demagogia panfletária digital. Que usa o modelo de negócio, cada rede social, como instrumento para a ascenção ilusória individual. O cidadão, na ânsia de poder, é desviado. Para uma reorganização, apesar de dispersa culturalmente, mais concentrada economicamente. Dominam, subvertendo regras anteriormente – exteriormente – lógicas de propriedade pessoal, os gigantes da World Wide Web. E ganham. Por terem a base a seu lado. O resultado, por não permitir uma audácia, é, afinal, o esbatimento da vontade pessoal. E deriva, antes de mais, de uma sensação, difusa e oculta, de inveja social:
O gratuito é o instrumento de vingança contra a sociedade do espectáculo.
O marketing, na identificação do processo, tornou-o consciente. E, mais uma vez, potenciou a realidade em nome da publicidade. Em nome, na configuração actual, do “nicho de mercado” e do “brand yourself”. Contacto directo entre consumidor e produto. A exigência do indivíduo é a prioridade. Mesmo que se ponha em causa um valor. Se abra caminho ao favor. A obra secundariza-se. Ser-se criativo é fazer “marketing de aproximação”.
Sejamos claros: vislumbrar o essencial na sociedade do livre acesso torna-se, no meio dos escombros, uma tarefa. A consequente eliminação do desejo e vontade de criação – esforçada; demorada – conduz, a meu ver, a um movimento de atracção mútua através da qual a substância passa, definitivamente, para segundo plano. A agregação de quem se deseja ser aquele que deseja ser tem como objectivo, bem disfarçado por uma retórica, a ultrapassagem do segundo pelo primeiro. Nada de novo.
Olhando o jornalista, o músico ou o designer que se promovem, minuto a minuto, através da actualização, na ilusão propagandeada de tal ser necessário (acaba por ser, por um momento), só nos atrevemos a uma expressão: desespero. Links irreflectidos atrás de posts ignorados. Consideramos, se ainda fossemos suficientemente humanos para isso, o que se tornou dispensável. É verídico: estamos às apalpadelas. A fuga ao instinto através do gadget tecnológico. Está em curso a ligação neuronal pré- biónica planetária. E já acena, por aí, o Google Wave.
Apesar do extremo conseguido até agora foi ao Myspace que coube a inauguração da desmoralização do estatuto. Se Madonna era religião agora suplica. Que sejamos, na sua página, um amigo. O mistério e o mundo interior, arrancados à força, perderam valor moral. Esta necessidade, de agradar, transforma- nos, consumidores, em parasitas. Exigimos gratuitidade. Deixamos, aos poucos, de conceber o seu contrário. Estamos demasiado perto. Ainda assim, perdidos num excesso, intitulamo-nos “democratas”. Útil virtude a favor da chantagem.
Os Radiohead, ao iniciarem o ciclo das ofertas conscientes de um álbum de originais, elevaram-se a símbolo de uma subserviência. Que contamina outros sectores culturais. Entre os quais o jornalismo. Relevante por representar um intuito concreto: manutenção do regime democrático. Este objectivo – mais ou menos evitado; mais ou menos esquecido – implica a aceitação social da especialização. Da importância de um financiamento responsável.
Mas a criança, hoje, é rei. Exige ser tratada por “tu”. Denunciamos, também aqui, um masoquismo. E constatamos: proliferam workshops, formações, espectáculos musicais, debates culturais, cineastas, jornalistas, “bienais”, exposições e instalações artísticas. E nunca foi tão vulgar o download. Mas gostaríamos de ver, no meio do pântano, uma planta carnívora. Mas é o medo do elitismo. E, por certo: pouca vontade de sobrevivência.
Suplemento de Outono

Imagem retirada de http://www.flickr.com/photos/untitlism
Cheira-nos a outono e é isto. Recomeçamos a dar aquilo que existe de mais maduro em nós. Permitam-me iniciar já com um desplante. Se o virtual não glorifica a densidade correremos em sentido contrário. Se recusamos uma certa tuiterização não é porque a renegamos. Precisávamos, para isso, ter-lhe dado verdadeira existência. Acusam-nos de não vermos o “futuro”. Evitamos desfocar os olhos. Temo-los bem fixos no presente.
Para os que não têm ouvidos há que o clarificar: não somos, nunca fomos, contra a internet. Há que transpor o radicalismo da metáfora. Por isso uso, tantas vezes, o itálico. Há uma distância que separa o MFJEP da realidade. Não pretendemos impor nem inverter o mundo. Iremos, brevemente, dar passadas mais largas e ultrapassar o formato escrito. Mas este é um projecto, acima de tudo, de interpretação. Existe uma base comum em torno de um ideal. Mas não existem argumentos aproximados, para a sua defesa, em nenhum dos intervenientes. Deixemos, pois, a moralidade para o leitor.
Lemos jornalismo digital. Mas não acreditamos na gratuitidade sem um modelo, a par, financiado e baseado na noção de responsabilidade pessoal. Que o suporte. Não pretendemos convencer mais que dois ou três. Eis, para nós, um triunfo. Somos, se calhar, uns elitistas. E, exactamente por isso, queremos continuar a provar, dentro de momentos, a nossa inutilidade.
Afonso Pimenta
O meio e a mensagem
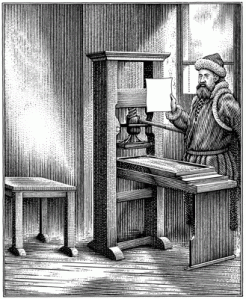
Imagem obtida em inkart.com: http://3.ly/gUa
Nuno Miranda Ribeiro
No que diz respeito à internet, eu subscrevo primeiro e pergunto depois. Sou, fui, em muitos serviços, o que se chama um early adopter. Foi o caso do Twitter, que subscrevi e deixei em suspenso durante mais de um ano (principalmente porque me fartei das constantes falhas no servidor, que faziam interromper o serviço). Sou dos que têm demasiadas contas nas redes sociais (no meu caso, exceptuando o hi5, Orkut, Facebook e sites desse género), tantas que não me lembro de todas.
Quando descobri os feeds, passei a ler demasiados blogues. Depois descobri o Google Reader e subscrevi tantos feeds que deixei de ler blogues. Recentemente passei a usar o Feedly, o que fez com que voltasse, timidamente, a ler blogues. Gosto do facto de haver, para cada serviço, muitas opções – quando me inscrevi no Geni, abri conta em mais 5 ou 6 sites de criação e gestão de árvores genealógicas. Uso, ao mesmo tempo, o Last.fm e o Grooveshark e estou inscrito em mais uma dezena de serviços semelhantes – embora só use os dois que referi. Não vou continuar a dar exemplos, porque me envergonha um pouco a forma deslumbrada, festiva e caudalosa de me relacionar com os serviços online.
Penso que posso afirmar com alguma exactidão que qualquer pessoa que tenha um curso de jornalismo, comunicação, marketing ou publicidade, conhece a expressão “O Meio é a mensagem”. E muitos conseguirão relacioná-la com Marshall McLuhan. A expressão não é inteiramente pacífica. Na sua formulação hermética, foi muitas vezes recebida mais como uma provocação e um jogo de palavras do que como a síntese de uma ideia. É tão relevante, no estudo dos fenómeno envolvidos na comunicação, que mereceu a sua própria página na Wikipédia.
A forma como entendo a expressão de McLuhan deixa-me apreensivo em relação a uma tendência minha de me deslumbrar e envolver no meio (e o contexto é o da internet), desinteressando-me da eficácia da transmissão de conhecimento ou da utilidade didáctica das ferramentas online a que adiro entusiasticamente. Se faço disso motivo de crónica é porque me parece que apenas sou um exemplo de como as pessoas se relacionam com os media. E se o meu comportamento é consonante com o comportamento mais frequente na minha geração e seguintes, a gravidade da minha preocupação está, suspeito, longe de ser habitual.
O You Tube, os feeds, o Twitter, o Facebook e o Myspace são menos ferramentas a que se recorre e mais o ambiente em que se está. Muitos sites procuram criar uma atmosfera lounge, confortável e apelativa, exactamente por perceberem que os utilizadores têm o site aberto e frequentam-no como a uma esplanada, uma biblioteca ou um bar. A diferença é que nesses locais não estamos isolados, medindo tudo pela satisfação do ego. É verdade que comunicamos, que dizemos coisas que são entendidas e entendemos coisas que nos são ditas. Dizemos muito mais coisas do que diziam os nossos avós. Ou melhor, linkamos, reencaminhamos, partilhamos, clicamos.
O que quero sugerir talvez seja mais fácil de entender com o exemplo do telemóvel. Antes de existir a possibilidade de levarmos connosco um engenho que permite fazer chamadas telefónicas, não havia uma necessidade terrível a que fosse imperioso corresponder. Os telefones fixos serviam-nos muito bem. Neste momento, uma empresa que ficasse sem telemóveis, teria imensas dificuldades. Fala-se ao telemóvel porque se pode. E porque se pode falar ao telemóvel, organizamos os nossos compromissos, o nosso quotidiano e a nossa forma de pensar à volta disso. O exemplo do telemóvel vai para além da função inicial do aparelho: falar à distância.
É um exercício interessante observarmos, num local público, as pessoas que estão sozinhas. Uma parte certamente estará de telemóvel na mão, manipulando-o com a perícia do hábito. Sim, desses uma parte estará a enviar sms’s. Mas os outros não. Têm o telemóvel na mão e rodam-no na mesa do café ou passam o polegar pelo ecrã ou vêm as horas, de minuto a minuto. A nova tendência dos ecrãs tácteis, veio exponenciar este contacto sensual e íntimo com o que começou por ser um aparelho telefónico. A forma como nos relacionamos com o telemóvel dá sentido a algo que o McLuhan afirmou: os meios de comunicação são uma extensão do nosso sistema nervoso central, ligando-nos a todos em rede. Proferimos metáforas McLuhanianas diariamente, sem nos apercebermos: “estou sem rede”, “fiquei sem bateria”, “dá-me um toque”. Sou eu que estou sem rede, eu que fiquei sem bateria, eu que receberei um toque. Lembro-me de quando, há uns 8, 9 anos, me surpreendi com as palavras de um homem que fez uma chamada do seu telemóvel, quando o comboio em que seguíamos estava a chegar ao destino. Quando atenderam do outro lado, disse “olha, estou a chegar, sim, não se atrasou, estás aí como combinado?, ok, o comboio está quase a parar, sim, até já”. Espantei-me, divertido e incrédulo, com a inutilidade do telefonema. Hoje, uma parte dos meus telefonemas devem ser assim, inúteis e redundantes – mas cumprem a sua função de me fazer sentir próximo, ligado, disponível.
Quando estamos no Facebook ou no Msn, as coisas passam-se a um nível mais complexo. Sentados em frente ao computador, somos (corpo e máquina) um ser simbiótico, uma silhueta cibernética, de poderes e alcance aparentemente ilimitados. Gostamos de ser estimulados, apaparicados, de receber links e smileys, partilhar o riso à volta de um vídeo, carregar no enter, no fim de uma frase, para poder voltar a encarar a webcam. E o que estamos a comunicar?
Cada vez se começa a usar o telemóvel mais cedo. Os pais parecem aliviados por viver num tempo em que é possível ligar a meio do dia para um número e falar com a cria, para confirmar que tudo está bem. É um cordão umbilical McLuhaniano, que passa a fazer falta, a partir do momento em que é disponibilizado. Enquanto crescia, não tive esta possibilidade de ligar do meu próprio telefone (e portátil, ainda por cima) para os meus amigos. Não tive um computador ligado à internet no quarto onde continuar a conversar com os amigos, mesmo depois das aulas. As crianças, e de forma muito intensa na pré-adolescência, têm esse espaço de ligações e contactos, que não me atrevo a chamar de virtual, que se acrescenta ao espaço físico da rua – menos frequentada -, da carteira da sala, do quarto. Para um adolescente, ficar sem rede, ficar sem bateria, é mesmo um problema.
Todos estes meios que usamos aumentam a eficácia da comunicação? E sem eles, conseguimos comunicar de forma completa, pertinente? Mais ainda, o objectivo principal, ao usarmos telemóveis e computadores, é comunicar?


leave a comment